Nos artigos finais do Curso de Guião abordei várias estruturas narrativas alternativas ao modelo clássico que ocupa o essencial dos artigos que aqui escrevo. No entanto todas essas variações são ainda muito focadas no modo ocidental de contar estórias. Isso deixou de fora um modelo narrativo muito importante no Extremo Oriente, que no Japão é conhecido como kishotenketsu.
Houve uma razão óbvia para essa omissão: não sendo especialista (nem profundo conhecedor) do cinema e literatura da China, Coreia e Japão, não me senti na altura habilitado para discorrer sobre um modelo sobre o qual tinha uma evidente ignorância empírica e teórica. O mesmo se passa, aliás, com o modelo de estrutura em cinco atos da pirâmide de Freytag que, por mais voltas que eu dê, não consigo entender na prática.
No entanto, e apesar do essencial da minha ignorância se manter inalterado, o modelo do kishotenketsu é tão importante, e para um público tão vasto, mesmo no Ocidente (parte das populares estórias de manga usam-no com frequência), que resolvi ultrapassar a minha relutância e tentar reunir alguns conceitos e considerações sobre ele.
Também ajudou o facto de ter finalmente percebido alguns exemplos da estrutura kishotenketsu em filmes que aprecio muito, o que me ajudou a entender (um pouco) melhor as suas nuances e subtilezas.
O que é o kishOtenketsu
Kishotenketsu é a designação japonesa para um modelo narrativo em quatro atos em que, ao contrário do modelo clássico ocidental, o conflito não é necessariamente o motor da progressão dramática.
Não quer isto dizer que estas estórias sejam desprovidas de conflito e drama tal como o conhecemos. Significa apenas que elas oferecem uma latitude muito maior a outros tipos de abordagens, mais introspectivas e focadas na evolução interior e das relações interpessoais dos personagens.
Este modelo dá também um ênfase especial aos eventos do terceiro ato, que são caracterizados por um elemento de surpresa.
O modelo do kishotenketsu está explicado na própria palavra, composta pela designação de cada um dos quatro atos:
- Ki: Introdução
- Sho: Desenvolvimento
- Ten: Surpresa
- Ketsu: Conclusão/reconciliação
É o terceiro ato, Ten, que marca de forma mais vincada a diferença e especificidade desta forma narrativa.
A origem do kishOtenketsu
Este modelo narrativo teve origem na China, onde é conhecido como Qi Cheng Zhuan Jie.
Originalmente não era usado como base da escrita de ficção mas sim na poesia e até no discurso argumentativo. Na realidade, esta forma de estrutura em quatro tempos é tão prevalecente em diversas áreas da cultura que pode ser considerado um dos elementos chave da forma de pensar nesse país.
Na Coreia, para onde a sua influência também se estendeu, o modelo é conhecido como Gi Seung Jeon Gyeol. Mas foi no Japão, com a designação de Kishotenketsu, que se popularizou na ficção e, principalmente através da influência dos manga, entrou no radar ocidental.
Há ligeiras diferenças na forma como os quatro estágios são entendidos em cada país, mas o essencial da forma é comum a todos.
Como funcionam os quatro atos do kishOtenketsu
Ki
No primeiro ato, Ki, a Introdução, são apresentados os principais elementos da narrativa.
Conhecemos os personagens e as suas relações, descobrimos o mundo da estória, percebemos os dilemas e problemas que podem ser explícitos ou estar subjacentes à situação apresentada.
Não é, no entanto, necessário haver um incidente incitante como estamos habituados no modelo clássico, nem ser deixada imediatamente uma questão dramática central. Tudo isso pode acontecer, e muitas vezes acontece, mas não é essencial para a natureza das estórias.
Como já referi, o conflito não é o principal motor dramático destas estórias. Muitas vezes há apenas a exploração das personalidades e situações de vida dos personagens, com um tom mais íntimo e pausado.
Sho
No segundo ato, Sho, o Desenvolvimento, exploramos com mais profundidade as características do universo narrativo estabelecido no primeiro.
Podem ser introduzidos novos personagens e situações, levantados novos problemas e questões, encetadas novas tramas narrativas, mas essencialmente trata-se do alargamento e aprofundamento do que o primeiro ato nos apresentou.
O conflito pode estar presente, e está muitas vezes, mas uma vez mais não é necessariamente o motor da narrativa.
Ten
O Terceiro ato, Ten, a Surpresa ou Viragem, é o que melhor caracteriza e diferencia uma narrativa com a estrutura kishotenketsu.
Corresponde à apresentação de um elemento inesperado, que pode irromper dentro do universo narrativo anterior ou até ser-lhe completamente estranho.
Muitas vezes corresponde à introdução de outros personagens, de uma nova trama narrativa, ou a uma mudança de cenário da narrativa.
Este elemento introduz um fator de surpresa, que é essencial para a apreciação da estória e terá importância no seu desenrolar.
Ketsu
No quarto ato, Ketsu, Conclusão ou Reconciliação, vemos como os elementos desenvolvidos nos primeiro e segundo atos são transformados em função do elemento de surpresa introduzido no terceiro.
Esta harmonização dos diversos e dos contrastantes é também uma característica bem conhecida do pensamento oriental, por isso não é de surpreender que ela possa desempenhar um papel importante nas narrativas oriundas dessa região.
Através da reconciliação dos elementos díspares apresentados, a conclusão da estória é apresentada com satisfação para os espectadores e o seu significado ascende a patamares superiores.
Note-se que reconciliação não significa que o resultado seja positivo ou muito menos “feliz”, como veremos nos exemplos mais abaixo; apenas que os diversos elementos díspares encontram uma conclusão narrativa coerente e harmoniosa.
Alguns exemplos bem conhecidos
Tudo isto é muito bom e bonito, mas na prática como é que funciona realmente? Vejamos alguns exemplos bem conhecidos, que podem ajudar-nos a perceber o modelo kishotenketsu.
Avance com cuidado: os spoilers abundam!
O filme Parasite, de 2019, realizado por Bong Joon-ho e escrito por ele e por Han Jin-won, tomou o mundo do cinema de surpresa quando conseguiu simultaneamente ganhar a Palma de Ouro do Festival de Cannes e o Óscar para Melhor Filme, sendo apenas o terceiro filme desde sempre a conseguir essa dobradinha, e o primeiro coreano.
Vejamos de forma sucinta como a sua estória se encaixa nesta estrutura narrativa:
- Ki : Introdução – Uma família pobre e em dificuldades estabelece contacto com uma família rica.
- Sho: Desenvolvimento – A família pobre começa a explorar a família rica através de diversos esquemas e vigarices.
- Ten: Surpresa – A família pobre descobre que há uma outra família ainda mais pobre a viver secretamente na cave da moradia da família rica.
- Ketsu: Conclusão/reconciliação – As tensões geradas pela descoberta desta terceira família desencadeiam um clímax sangrento numa festa de aniversário realizada na casa da família rica.
O filme de animação A Viagem de Chihiro, do Estúdio Ghibli, escrito e realizado por Hayao Miyazaki em 2001, é um dos mais prodigiosos filmes de animação que já me foi dado assistir, e seguramente o meu favorito nessa forma de arte (juntamente com Toy Story).
Não seria difícil encaixar a sua estória num modelo narrativo em três atos, mais convencional, ou até no modelo da Viagem do Herói, mas também é considerado um bom exemplo do kishotenketsu.
Isto talvez queira dizer que, no fundo, tentar forçar as estórias a caber em modelos narrativos espartilhados é apenas um exercício intelectual que não representa corretamente a forma como os contadores de estórias tecem as suas narrativas.
Mas, como disse George Box, “Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis”, por isso façamos uma vez mais o exercício:
- Ki: Introdução – Uma menina medrosa entra involuntariamente no mundo dos espíritos, depois dos seus pais serem transformados em porcos por uma bruxa.
- Sho: Desenvolvimento – Para sobreviver nesse mundo e tentar salvar os pais, ela começa a trabalhar numa casa de banhos públicos para deuses, gerida pela bruxa. Aí encontra um aliado num jovem feiticeiro misterioso e cruza-se com um estranho espírito Sem Cara.
- Ten: Surpresa – A menina descobre que o seu jovem aliado pode assumir a forma de um dragão, quando este é ferido com gravidade. Ao mesmo tempo o espírito Sem Cara entra num louco frenesi destruindo os banhos públicos e engolindo os seus empregados, situação que apenas a menina consegue controlar.
- Ketsu: Conclusão/reconciliação – Acompanhada pelo espírito Sem Cara, que apenas queria atenção e amor, a menina viaja até à casa da irmã gémea da bruxa, para tentar salvar o amigo dragão ferido. Não só consegue esse objetivo como no final é recompensada com a salvação dos pais e o regresso ao mundo normal.
Finalmente, atrevo-me a estender esta análise ao excelente The Holdovers, filme de 2023 realizado por Alexander Payne e escrito por David Hemingson, candidato a muitos prémios e vencedor de alguns
- Ki: Introdução – Um professor de um colégio privado nos anos 70 é forçado a passar as férias de Natal com alguns alunos que não viajam, o que não agrada a nenhum deles.
- Sho: Desenvolvimento – Depois de parte desses alunos sair de férias com um pai arrependido, o professor fica apenas responsável por um deles, bastante problemático. Através das tensões entre ambos e da interação com uma cozinheira também presente na escola, vamos descobrindo aspectos das suas personalidades.
- Ten: Surpresa – Numa viagem de estudo a Boston, o aluno problemático tenta fugir. É apanhado pelo professor, que descobre que ele queria apenas ir visitar o próprio pai, internado num hospício. Os dois acabam por fazer essa visita em conjunto.
- Ketsu: Conclusão/reconciliação – De regresso às aulas recebem a visita da mãe e do padrasto do jovem, que estão descontentes por ele ter visitado o pai sem autorização e o querem enviar para a Academia Militar. Sabendo que esse caminho vai destruir o jovem, o professor assume a responsabilidade e é despedido do colégio. Paradoxalmente, essa “derrota” é exatamente o que ele precisava para seguir os seus próprios sonhos.
Comparação com o modelo de três atos
A pesquisa que fiz na net sobre o kishotenketsu deu frutos quando, finalmente, entendi (ou pensei ter entendido) que, na verdade, este modelo de estrutura não é incompatível com aqueles a que estamos mais habituados.
Isto pode parecer heresia para os seus adeptos, mas tentarei explicar o meu raciocínio
Já há bastante tempo que tenho tendência a pensar no modelo narrativo clássico ocidental como tendo, na realidade, não três mas quatro atos. Até foi essa a opção que tomei no meu Curso de Guião, ao separar o segundo ato em 1ª metade e 2ª metade.
Estas duas metades do 2º ato são separadas pelo Ponto Médio, que corresponde muitas vezes à apresentação de uma surpresa ou viragem importante no rumo da estória.
Aceitando estes pressupostos, vemos que o kishotenketsu será então um caso particular desta estrutura em quatro atos, que realça dois aspectos particulares:
- Não coloca necessariamente o ênfase no conflito como motor da ação;
- O elemento de surpresa/viragem do Ponto Médio desempenha um papel ainda mais acentuado, tendo uma influência determinante na forma como o 3º ato se desenrola.
Nesta perspectiva, o kishotenketsu poderá em alguns casos ter uma correspondência quase perfeita com o modelo narrativo mais clássico sugerido por McKee, o Arch-plot ou arquitrama (quando o conflito for um motor narrativo importante da estória) e, noutros exemplos, encaixar no que o mesmo McKee designa por Mini-plot ou minitrama (quando a narrativa explorar outros aspectos que não o conflito).
O kishotenketsu é mais uma lente que podemos acrescentar à nossa caixa de ferramentas, juntamente com o modelo clássico, a Viagem do Herói, o Story Circle, e tantas outras abordagens que temos à nossa disposição.
Todas elas são úteis, mas nenhuma substitui a capacidade de encantar os leitores/espectadores com uma boa estória bem contada.
Porque, como sublinha David Mamet, “A tarefa de um dramaturgo é fazer o espectador interrogar-se sobre o que acontecerá a seguir”.
E isso pode ser conseguido com qualquer um destes modelos narrativos, ou mesmo sem nenhum deles.
Conclusão
Termino com um vídeo que apresenta uma outra análise bem construída desta estrutura narrativa, mais focada no cinema coreano.
Volto a frisar que não sou um especialista no kishotenketsu e que posso até ter entendido incorretamente algum aspecto, ou deixado de fora detalhes que um conhecedor consideraria essenciais.
Se for o caso, deixe por favor as suas sugestões, correções e considerações nos comentários abaixo. Farei o possível por incorporá-los numa futura versão melhorada deste artigo.

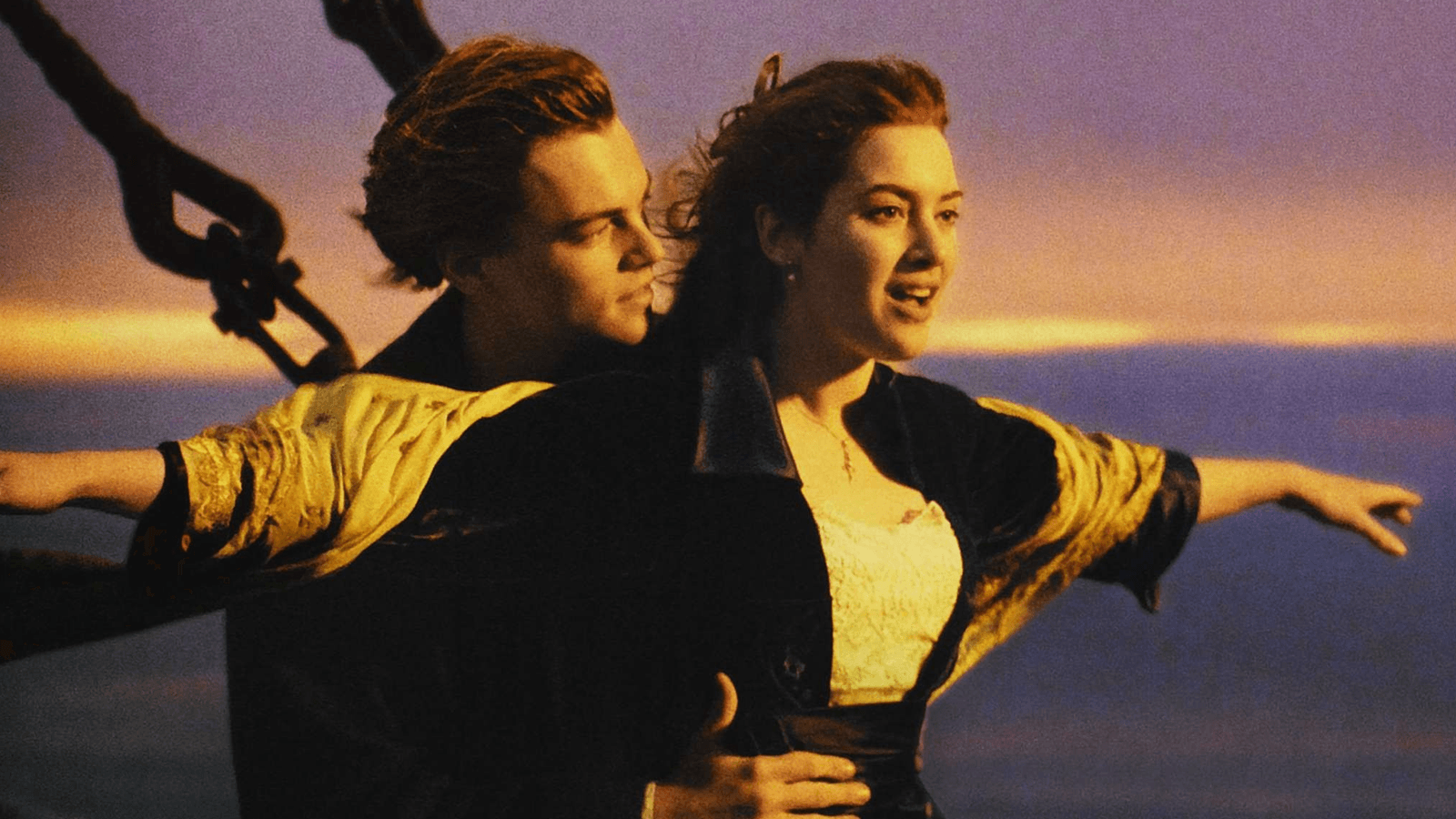


Parabéns pela explanação , só um fadback, de uma revisada no começo do texto pois creio que se equivocou quando:
“O mesmo se passa, aliás, com o modelo de estrutura em cinco atos da pirâmide de Freytag que, por mais voltas que dê, não consigo entender na prática.”