Numa estória, concentramo-nos nesse momento, e apenas nesse momento, em que um personagem age na expectativa de ter uma reação útil do seu mundo, mas em vez disso o resultado da sua ação é provocar forças antagónicas.
Robert McKee, em “Story”.
Interrompo hoje a análise dos personagens, que ainda vão ser objeto de mais um artigo, para regressar aos mecanismos de funcionamento das estórias de ficção, dentro do modelo que convencionei chamar “clássico”, e que constitui o essencial deste curso online de guionismo.
Esta pequena digressão permitirá regressar depois aos personagens com novas noções que serão úteis.
Voltando um pouco atrás
Como vimos em artigos anteriores do curso, o modelo “clássico” de narrativa é aquele em que um protagonista ativo e interessante tem um objetivo definido e importante mas encontra no seu caminho obstáculos difíceis de ultrapassar.
Este modelo tem, pois, alguns pressupostos:
- o protagonista é ativo, ou seja, faz as coisas acontecerem, não se limita a andar ao sabor dos acontecimentos;
- é interessante, no sentido em que tem características que motivam a identificação, empatia ou fascínio do espectador;
- tem um objetivo claro e importante, que se não for alcançado terá consequências graves na sua vida;
- e encontra obstáculos e dificuldades para alcançar esse o objetivo, sem os quais a estória não seria dramática, apenas um passeio.
Robert McKee, recordo ainda, acrescentava mais duas características que convém recordar:
- esta narrativa clássica decorre numa realidade consistente e causal, ou seja, em que as regras não mudam a meio e há uma lógica de causa e efeito;
- e a estória tem de ter um final fechado, conduzindo a uma situação radicalmente diferente da inicial.
Uma estória clássica começa pois com a colocação de uma questão dramática ao protagonista, à qual ele tenta responder lançando-se num percurso que vai sendo recheado de novas questões dramáticas, e em que a única verdadeira regra é manter o espectador permanentemente curioso acerca do que vai acontecer a seguir.
Vimos que, para conseguir manter essa curiosidade acesa, o guionista deve apostar em duas coisas: conflito – os obstáculos e dificuldades que o protagonista tem de enfrentar – e surpresas.
Através da seleção criteriosa dessas fontes e situações de conflito e surpresas o guionista cria o seu enredo, ou seja, a sucessão dos acontecimentos necessários e suficientes para contar a estória.
Vimos ainda que este enredo toma normalmente forma dentro de uma estrutura clássica, que é definida como o paradigma dos três atos:
- no 1º ato a estória a estória é posta em marcha por um determinado acontecimento que lança a questão dramática (o inciting incident, gatilho ou catalizador);
- arranca a partir do momento em que, no fim do 1º ato, o protagonista decide tomar nas suas mãos a solução do problema (1º ponto de viragem);
- desenvolve-se numa sucessão de passos progressivamente mais difíceis (incluindo um particularmente relevante a meio) até que, no final do 2º ato, o protagonista se encontra na reta final para a conclusão (2ª ponto de viragem);
- e, no 3º ato, termina de forma conclusiva num grande confronto final (o clímax).
Já vimos também, na análise do protagonista, como este é definido pelas suas escolhas.
Ou seja, em cada momento da estória, quando confrontado com um obstáculo, uma dificuldade, um dilema, o protagonista tem de escolher um rumo de ação.
A opção que toma revela a sua personalidade e influencia o progresso da estória. É isto que define o que eu chamo de “mecanismo de progressão dramática”.
A ideia geral da progressão dramática
O mecanismo de progressão dramática assenta numa estrutura dialéctica, ou seja, numa sequência de teses/antíteses/sínteses que, progressivamente, fazem evoluir a estória.
O pensamento dialéctico está enraizado na nossa forma de questionar o mundo pelo menos desde Platão, e revela-se como uma ferramenta poderosa para explicar as mecânicas que fazem avançar uma boa estória:
- a escolha que o protagonista faz em cada momento é a tese.
- Essa escolha coloca-o num rumo de ação onde vai encontrar obstáculos e dificuldades, ou seja, a sua antítese.
- Face a estes contratempos o protagonista é obrigado a novas decisões, ou seja, a síntese.
À boa maneira dialéctica esta síntese converte-se numa nova tese, que dará origem a nova antítese, e assim por diante até à conclusão definitiva da estória, que para Marx era a sociedade sem classes; para Fukuyama a democracia liberal; e para nós o clímax.
O “Story” de Robert Mckee
A ideia que apresento aqui é fortemente influenciada pelo mecanismo teorizado e apresentado por Robert McKee no seu livro “Story”, uma obra que não me canso de recomendar.
É um livro que já li várias vezes, aprendendo sempre qualquer coisa de novo em cada leitura. Não é uma obra fácil, mas acho duvidoso encarar a sério uma carreira de guionista sem o ler. Infelizmente para os leitores portugueses, a única edição em língua portuguesa que conheço é do Brasil, que nunca encontrei à venda em Portugal.
McKee apresenta este mecanismo como uma progressão de um protagonista em direcção a um objeto de desejo.
Cada ação levada a cabo pelo protagonista conduz, em virtude dos obstáculos encontrados, a um resultado diferente do esperado, que implica uma correção de rumo com uma nova ação.
À diferença entre as expectativas e os resultados da ação do protagonista, McKee chama o “gap”, que pode ser traduzido como “brecha”, “lacuna” ou, simplesmente, “diferença”.
Outra noção importante da teoria de McKee é que a dificuldade dos obstáculos e o risco para o protagonista têm de ir sempre em crescendo, aumentando com cada nova escolha e ação empreendida por ele.
Uma estória clássica é assim uma corrida de obstáculos em que cada barreira vai sendo um pouco mais alta do que a anterior.
O Mecanismo de Progressão Dramática
Vejamos então como funciona, em teoria, este mecanismo de progressão dramática.
Parece mais complicado do que realmente é. Mas, por outro lado, é muito mais complicado do que parece.
Esta aparente contradição explica-se rapidamente: os princípios básicos deste mecanismo são muito fáceis de entender; a sua aplicação na prática, pelo contrário, é a essência da arte de um guionista.
Em resumo, o Mecanismo de Progressão Dramática pode ser visualizado assim.

Vejamos então quais os elementos que compõem este mecanismo.
O protagonista
Já escrevi um artigo deste curso sobre o protagonista, e as características que idealmente deve ter, por isso não me alongo muito aqui.
Recordo apenas que deve ter características que o tornem interessante para o espectador; e que deve ter uma motivação muito forte para alcançar o seu objetivo.
É essencial que o espectador compreenda que, se não conseguir alcançar a sua meta, o protagonista tem muito a perder. A vida de Frodo e de todos os que o rodeiam não vai continuar a ser a mesma se ele não conseguir destruir o Anel; a vida de Juno não continuará despreocupadamente se ela não arranjar bons pais adotivos para o seu bebé; a vida de Clarisse não será a mesma depois de se envolver na perseguição a Buffalo Bill.
Nenhum destes protagonistas pode simplesmente encolher os ombros e seguir a vida normalmente se as coisas não correrem bem na sua tarefa; o seu mundo sofrerá consequências graves, o equilíbrio não voltará a ser reposto.
As escolhas
A primeira escolha importante que o protagonista faz, normalmente no fim do 1º ato, é pôr mãos à obra para resolver o problema que lhe surgiu no caminho, e restabelecer o equilíbrio no seu mundo.
Não é geralmente uma decisão fácil; há a inércia natural do ser humano, a tentativa de seguir a vida normal, a fuga às complicações que essa escolha vai implicar. Mas a certa altura o protagonista percebe que não é enfiando a cabeça na areia que o problema se vai resolver e passa à ação.
A partir desse momento a estória começa a avançar em crescendo.
Obviamente esta sua primeira ação não resolve logo o problema, ou a estória acabava logo nesse momento.
Surgem obstáculos, contrariedades, problemas.
O antagonista ou antagonistas manifestam-se, tomam decisões e fazem escolhas, e por sua vez empreendem ações para contrariar ou travar as ações do protagonista.
Outras dificuldades surgem de forma natural – obstáculos físicos, por exemplo.
Gera-se assim o conflito que está na origem de todo o drama.
Face a estes obstáculos o protagonista é obrigado a mudar de rumo, fazer novas escolhas, empreender novas ações. Se não deu de uma maneira, tenta de outra; se sentiu resistência, empurra com mais força; se o obstáculo é grande demais, retira-se e tenta por outra via.
Estas escolhas tem duas consequências práticas, do ponto de vista do espectador: em primeiro lugar definem quem é o protagonista, mostrando a sua verdadeira natureza.
Quando decidem ficar com o dinheiro que encontram, os protagonistas de “A Simple Plan” mostram a sua desonestidade latente. A partir desse momento cada escolha que fazem vai revelando um pouco mais do seu lado escuro, até à inevitável conclusão final.
Em segundo lugar, as escolhas condicionam a evolução da estória.
Se as acções do protagonista o colocam no centro de um ensaio nuclear, como em “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”, as opções são reduzidas. Quando, face a essa situação, o protagonista opta por esconder-se dentro de um frigorífico, que o protege da explosão atómica, a credibilidade do filme cai por água abaixo nesse momento.
Compete ao guionista a escolha de obstáculos que não coloquem em causa a sequência da estória.
Se o protagonista morre – o derradeiro obstáculo – é bom que o o guionista tenha uma solução genial para fazer a estória seguir. Shakespeare tinha, e o resultado, em “Romeu & Julieta”, é inesquecível.
É assim, de escolha em escolha, através de cada nova ação empreendida, que o protagonista ativo se aproxima passo a passo da conclusão da estória.
Os obstáculos
Os obstáculos ou contrariedades que o protagonista enfrenta podem ser de várias naturezas.
Muitas vezes são obstáculos internos, que resultam dos medos, receios, indecisões, limitações, fraquezas e características do próprio protagonista.
No final de “Seven” o personagem de Brad Pitt é derrotado pela sua própria raiva; Indiana Jones tem medo de cobras; a indecisão de Miles, em “Sideways”, é o seu próprio pior inimigo.
As próprias virtudes do protagonista podem, em certas situações, revelar-se como fraquezas.
O voluntarismo de Peter Parker, em “Homem-Aranha”, é o principal obstáculo para as suas relações amorosas; Juno é uma eterna otimista, mas isso deixa-a mal preparada para os problemas confusos dos adultos; Red, em “Os Condenados de Shawshank”, adaptou-se tão bem à vida na prisão que ficou despreparado para a vida no exterior.
Mais frequentemente, os obstáculos costumam ser externos. Nesse caso eles têm duas origens – ou física, ou humana.
Nos obstáculos físicos incluem-se todos as contrariedades de natureza material, irracional, e aleatória: o pântano que Frodo tem de atravessar para chegar a Mordor em “O Senhor dos Anéis”; a “Tempestade Perfeita” que George Clooney enfrenta; a ponte que Indiana Jones precisa cruzar; o motor da carrinha que está sempre a deixar ficar mal a família de “Little Miss Sunshine”; as toneladas de papel que Julia Roberts tem de vasculhar em “Erin Brokovitch”.
Estes obstáculos surgem no caminho do protagonista por acaso, ou pelas suas características próprias e incontornáveis. Não são eles que escolhem estar ali; é da sua natureza.
Os obstáculos humanos, pelo contrário, incluem todas as forças racionais, com vontade própria, que agem determinadamente para contrariar o protagonista.
Pode ser um antagonista humano, como no já referido “Seven”; ou um cyborg, como em “Terminator”; uma raça alienígena, como em “Alien”, ou um espírito maligno, como em “The Shinning”. Em “Backdraft” dá-se um caso curioso: o fogo é obviamente um obstáculo natural (irracional, aleatório) mas em certas sequências parece comportar-se movido por vontade própria. Essa característica “humana” contribuiu bastante para a força do filme.
Robert McKee distingue dois níveis de obstáculos externos – o pessoal, que é o círculo de relações próximas do protagonista; e o extra-pessoal, que inclui as forças sociais, os indivíduos na sociedade, e as forças físicas, ambientais.
Eu penso que a minha distinção, baseada na existência ou não de uma vontade, é mais funcional.
A frustração / dilema
A frustração, e consequente dilema, é semelhante aquilo a que Mckee chama o “gap”.
É a diferença entre as expectativas do protagonista para uma determinada ação, e aquilo em que essa ação resulta realmente, face aos obstáculos que surgem.
Quando o protagonista faz uma escolha e empreende uma ação, espera ter um determinado resultado positivo, favorável aos seus planos e intenções. Mas os obstáculos que surgem retardam, dificultam ou anulam a obtenção desse resultado.
O plano falha, ou fica incompleto, mas o protagonista não pode parar. Tem uma missão a cumprir, um objetivo a alcançar. Em função da sua personalidade faz uma nova escolha, que o leva um passo mais adiante. O ciclo inicia-se de novo.
Quando Juno sabe que está grávida, decide fazer um aborto. Mas uma determinada sequência de eventos (obstáculos) fazem com que, a certa altura, essa opção deixe de lhe ser agradável. A sua primeira escolha sai frustrada e ela encontra-se face a um dilema: o que fazer a seguir? Decide procurar pais adotivos para o bebé. A estória progride.
Fasquia crescente
Quando um guionista está a decidir se vai escrever ou não uma determinada estória, uma maneira útil de avaliar o potencial dramático dessa estória é fazer uma lista de todos os obstáculos e contrariedades, internos e externos, que o protagonista poderá enfrentar.
Se surgirem ideias de obstáculos com facilidade é sinal que a estória tem um grande potencial de conflito e drama; se, pelo contrário, tiver dificuldade em pensar em problemas para o protagonista, talvez seja boa ideia repensar as premissas da estória, ou simplesmente abandoná-la.
Esta lista pode servir, na fase da escrita, como base para estabelecer uma graduação crescente dos obstáculos e dificuldades.
A fasquia deve ir sendo colocada progressivamente mais alta. Não devemos escolher o obstáculo mais difícil logo para o início da estória, ou corremos o risco de, depois, não conseguir manter o interesse do espectador.
Esta gestão dos obstáculos é também uma tarefa importante para o guionista.
A estória vai assim avançando de degrau em degrau, com a tensão subindo sempre de nível. Os obstáculos devem ser progressivamente mais fortes e intransponíveis, conduzindo a maiores frustrações, e tornando mais difíceis os dilemas que o protagonista enfrenta. Mais radicais terão pois de ser as novas ações que ele empreende para prosseguir na sua missão.
Como vimos antes, além do conflito, é necessário alimentar a estória com surpresas.
Uma maneira de o conseguir é não cair na rotina com os obstáculos e contrariedades que vamos colocando no caminho do protagonista. Devemos mudar o género e natureza dos obstáculos; intercalar obstáculos internos e externos; alternar entre os físicos e os humanos; graduar até a sua dificuldade, baixando por vezes a dificuldade para logo regressar um nível mais acima.
A seguir a uma montanha, não basta colocar outra montanha mais alta; a seguir a um snipper escondido, não é suficiente colocar outro snipper com melhor pontaria. Mas colocar o sniper a seguir à montanha (ou escondido nela) já pode ser interessante.
Manter o espectador sempre em desequilíbrio, sem saber o que vem a seguir, é a melhor maneira de o agarrar à estória.
Objetivo
No fim do 2º ato, no 2º ponto de viragem, devemos sentir que o protagonista entrou na reta final da estória. É como uma corrida de estrada que termina com algumas voltas num estádio; devemos sentir naturalmente a mudança de um para o outro ambiente, e a urgência que ela vem acrescentar.
Em “Doomsday” a protagonista e companheiros conseguem o que procuram, e têm de regressar ao seu mundo; em “A Ressaca” os celebrantes encontram finalmente o noivo desaparecido e têm de conseguir chegar ao casamento a horas; em “O silêncio dos Inocentes” Clarisse é afastada do caso mas continua a investigar e chega ao criminoso sozinha; em “Juno” os potenciais pais adotivos separam-se e a protagonista tem de tomar decisões difíceis e definitivas.
O 3º ato conduz-nos pois, irreversivelmente, ao clímax, no qual se fecha a estória.
O clímax é normalmente o confronto final, o obstáculo mais difícil, o dilema mais importante. É a resposta à questão dramática colocada no início. É o parto de Juno, a captura de Buffalo Bill, o concurso de misses de “Little Miss Sunshine”.
É da natureza do modelo clássico que este final seja fechado, ou seja, que não fiquem pontas soltas ou dúvidas quanto ao sucesso ou insucesso do protagonista. Isto não significa que o final tenha de ser positivo ou favorável ao protagonista.
McKee distingue três tipos de finais fechados, numa classificação que me parece perfeita: aqueles em que o protagonista alcança o sucesso, conseguindo concretizar o seu objetivo; aqueles em que fracassa, falhando o objetivo; e os finais que ele classifica como irónicos, em que o protagonista alcança o objetivo, mas isso revela-se na realidade uma derrota; ou falha, mas esse fracasso é afinal uma verdadeira vitória.
No primeiro caso temos, por exemplo, “O Silêncio dos Inocentes”. Clarisse consegue matar Bufallo Bill e salvar a sua última vítima. No cinema comercial, mais bem sucedido, é normalmente o final escolhido, pois liberta em catarse positiva toda a tensão acumulada durante a estória.
Mas os finais em que o protagonista fracassa também podem ser muito satisfatórios e recompensadores. “Romeu & Julieta” sobreviveu nas graças do público apesar da morte dos protagonistas – ou, melhor, devido a ela.
Os finais irónicos são mais raros, mas podem ser extremamente interessantes. Em “O Casamento do Meu Melhor Amigo”, Júlia Roberts não consegue impedir o casamento, mas torna-se uma pessoa melhor; em ” O Mundo a Seus Pés”, Charles Kane consegue poder, fortuna, sucesso, mas morre sozinho e abandonado.
Como se pode ver, o mecanismo de progressão dramática de uma estória do modelo clássico é lógico, natural e fácil de compreender.
Aplicá-lo na prática, por outro lado, exige o melhor da inspiração e a maior parte da transpiração dum guionista.
Exercício
Qual é a primeira decisão que o seu protagonista toma para alcançar o seu objetivo? Que ação enceta? E qual é a primeira força de reação – dificuldade ou obstáculo – que lhe surge no caminho?
Que novo caminho se abre, e que novas decisões/ações é ele obrigado a escolher?
Continue a desenhar/avaliar a sua estória sob esta perspetiva dialéctica de ação/reação/frustração, construindo o seu enredo dessa forma.
Artigo atualizado em 01-08-2023



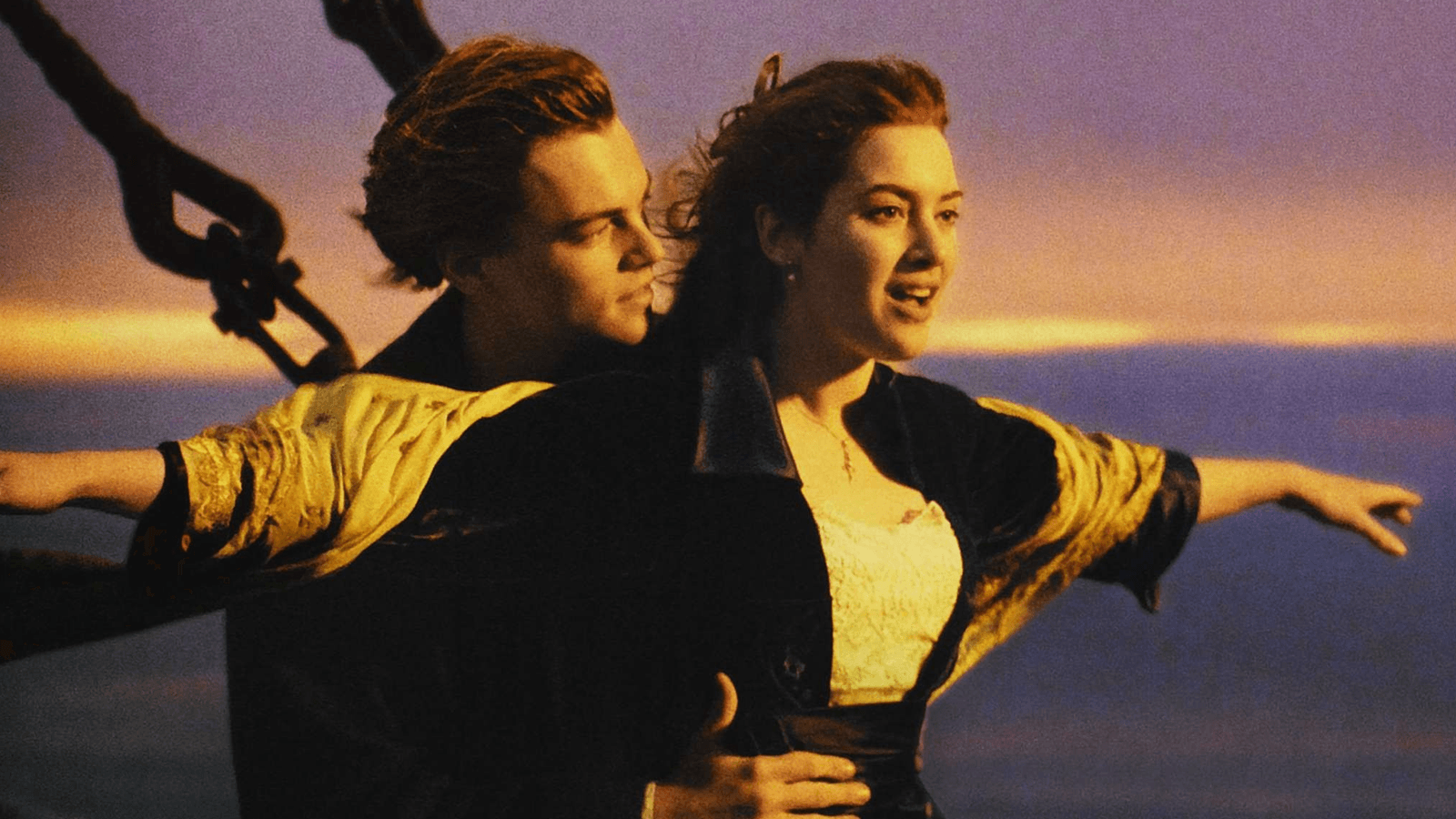
Caro João,
Faz alguns anos que o meu ‘chimpanzé’ interior desceu do galho, resolveu se manifestar e eu passei a escrever roteiros. Como conseqüência da minha constante busca por informação a respeito desta deliciosa atividade acabei por lhe encontrar; e que sorte este encontro… A maneira como você escreve é muito clara e, apesar das nossas ‘diferenças lusófonas’, lendo-o estou em casa. Algo que me intriga, e que gostaria de comentar consigo, é o ponto de virada da carreira de um roteirista, ou seja, o momento em que ele passa de diletante a profissional. Será que é parecido com aquilo que chamamos aqui no Brasil de ‘peneiras futebolísticas’, onde milhares de aspirantes a craques têm seus sonhos pulverizados? Ou será a combinação exata entre talento e sorte? A estória certa na mão do produtor certo… Mistério absoluto… Eu tento não esmorecer com a questão e procuro nunca parar de escrever. Quem sabe um dia este menino aqui ainda vai marcar um golaço de placa e ouvir o grito da torcida no Maracanã. Enquanto isso não acontece, eu vou fazendo as minhas ‘macaquices’. Agradeço muito a sua colaboração.
Boa sorte amigo!
Muito obrigado pelas palavras simpáticas.
Caro João Nunes: estou absolutamente agradecida à você que, com tanta generosidade, partilha seus estudos, textos e comentários com pessoas como eu, que estudam e escrevem roteiros para não perder a prática e agilidade. Também sou pesquisadora, função que complementa meu lado de roteirista e me mantem atualizada. Não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil roteirista ainda não é uma profissão reconhecida oficialmente, apesar de tantos se destacarem pelo talento tanto na televisão como nu cinema ou nas diversas mídias atuais.
Espero que você continue a escrever seus artigos que são estimulantes para quem sempre procura novas abordagens.
ivana rowena
Eu é que agradeço as suas palavras e apoio.
Eu é que agradeço as suas palavras e apoio….
João,
Com relação a esses dois principios: “Objetivo Claro” e “Protagonista Ativo”, tive dificuldade de encontra-los em alguns filmes.
Forrest Gump:
O objetivo de Gump é passar a vida ao lado da Jenny. Mas todas as suas ações nada têm a ver com isso: ir ao Vietnã, virar idolo do Ping Pong, conhecer presidentes, ficar rico com pesca de camarao, correr pelo pais sem objetivo de ganhar medalhas, recordes ou chamar a atenção para causas…. Jenny vive a vida dela, longe dele.
The Doors:
Não há uma busca pelo sucesso como no filme “The Wonders”. Qual o objetivo do protagonista e o que ele faz para alcançar?
Imperio do Sol:
Garoto é priosioneiro de guerra, mas o objetivo dele não é fugir. Qual o objetivo dele? Adaptar-se a nova realidade? Não acho que o final feliz seria ele estar adaptado a ser prisioneiro. Então qual o objetivo dele e o que faz para obte-lo?
Parabens pelo site.
Gostei muito.
Paulo,
a lista poderia ser muito mais extensa. Há inúmeros filmes que não respeitam um, dois ou nenhum dos princípios, “regras”, técnicas, dicas, modelos que eu vou descrevendo neste curso. É isso que faz a riqueza do cinema, e da escrita para esse meio.
O que eu tento explicar neste “curso” são algumas bases comummente aceites para a escrita daquilo que se pode designar como o “modelo clássico” de estória cinematográfica. Picasso, antes de soltar toda a sua criatividade na pintura, escultura e cerâmica, aprendeu a desenhar de forma tradicional (e era um desenhador extraordinário). Assim deve ser com os guionistas; antes de se aventurarem em modelos mais “alternativos” – enredos paralelos, multi-personagens, variações temporais, protagonistas passivos, narrativas episódicas, etc – devem dominar o modelo clássico e os seus princípios de funcionamento.
Conversando com amigos descobri que “The Doors” é um filme que só funciona para quem é fã da banda. Então estou concluindo que é um filme que confirma a regra de que se o protagonista não tem um objetivo claro, o espectador comum perde o interesse. “Império do Sol” também muita gente acha o filme meio morno. Deve ser o mesmo problema.
Mas o sucesso do roteiro de Forrest Gump ainda é curioso. O objetivo de Gump é claro, mas ele não faz nada para atingi-lo. Se ele nada faz… e por isso não há forças antagonicas reagindo… é correto afirmar que é um filme sem conflitos? Que não existe drama? Mas se não existe drama, como conseguem prender a atenção até o final? Não entendo isso. Sei que demoraram anos para adaptar o livro para o cinema porque os roteiristas convidados não queriam se arriscar. Não era um roteiro facil de lidar.
Nunca fiz essa reflexão sobre esse filme específico, e não me lembro o suficiente dele para poder teorizar agora. Mas como eu refiro no curso, o que faz um filme ser interessante é o “conflito+surpresas”. Conflito, realmente não recordo (embora provavelmente houvesse vários, mais subtis – nomeadamente, o conflito contra as suas próprias limitações); quanto às surpresas, pelo contrário, o filme tinha bastantes. Junte a isso o Tom Hanks em pico de carreira e um novo degrau na aplicação de efeitos especiais, e o sucesso começa a ser mais fácil de entender.
Pingback: Flashback 2009 | joaonunes.com
Pingback: Curso #18: as ferramentas da gestão da informação